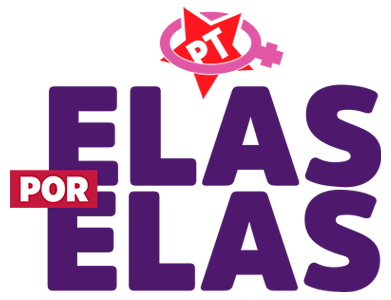Por Andréa Cangussú*
Em pleno século XXI, frases pejorativas são recorrentes para se referir a pessoas que fogem ao padrão de gênero imposto por uma sociedade extremamente conservadora, tradicionalista e patriarcal. Esse preconceito se estende, também, no âmbito racial, pois palavras ou expressões como “neguinho, isso é coisa de preto, criado-mudo, denegrir, a situação tá preta”, são repetidas cotidianamente sem que se questione sua origem no nosso passado escravocrata.
A linguagem também será porta-voz desse preconceito enraizado quando se trata das questões de gênero. Não é raro escutarmos pelas ruas, estádios de futebol, brigas de bar e desentendimentos corriqueiros entre vizinhos ou colegas de escola as expressões “viadinho, bicha, traveco, gayzinho”.
O que comumente costumamos chamar de minorias, na verdade, são a maioria, uma vez que nosso país tem origens variadas, o que resultou numa miscigenação de raças, credos e culturas desde a invasão dos portugueses em 1500. Mesmo diante de uma história que traz em sua origem tanta diversidade, ainda falta muito para alcançar essa equidade tão desejada e tão necessária.
Alguns passos, por mais tímidos que sejam, já foram dados. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em 13 de junho de 2019, que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada um crime. Diante da decisão, a conduta passa a ser punida pela Lei de Racismo (7716/89(, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por “raça, cor, etnia, religião e procedência nacional”. Segundo o texto constitucional, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível e pode ser punido com um a cinco anos de prisão e, em alguns casos, multa.
Essa conquista veio posteriormente a outro avanço. Em 2018, o mesmo STF autorizou transexuais e transgêneros a alterarem o nome no registro civil sem a necessidade da cirurgia de mudança de sexo. Com a decisão, a alteração pode ser feita por meio de decisão judicial ou diretamente no cartório. Antes da decisão do Supremo, transexuais somente podiam adotar o nome social em identificações não oficiais, como crachás, matrículas escolares e na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo.
Mas esses avanços legais ainda representam muito pouco para um país que tem um LGBTQI+ assassinado a cada 19 horas (dados de 2017). Por isso, devemos nos questionar diariamente: como falar de uma ascensão da população LGBTQI+ na política sem antes lhe garantir o básico, que é ter o direito à vida previsto no artigo V da Constituição Federal Brasileira?
A expectativa de vida das pessoas transgênero e travesti é de 35 anos. Os números, por si só, já são assustadores. Mas se comparados à expectativa de vida da população heterossexual, que está na casa dos 75 anos, passam a ser chocantes.
Não há dúvidas de que é preciso lutar para mudar esse quadro. Os transgêneros devem ocupar mais espaços institucionais na política. Já temos conquistas com a eleição de três deputadas estaduais transgênero no Brasil: Robeyonce de Lima, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e Erika Hilton e Erica Malunguinho, na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Se comparada a décadas passadas, essa é uma conquista fundamental, histórica, mas o momento atual clama por mudança e revolução. Os cargos políticos atualmente são majoritariamente ocupados por homens brancos. Basta ver os números das eleições de 2018 para a Câmara dos Deputados, quando foram eleitos 85% de homens para o Legislativo federal. Essa desigualdade deve fazer, cada vez mais, parte de um passado vergonhoso.
Nas próximas eleições, a comunidade LGBTQI+ tem que figurar no topo das estatísticas, mas não por mortes, agressões, injúrias ou mesmo suicídios devido a uma sociedade preconceituosa. Queremos sim, ver a comunidade LGBTQI+ figurando no topo das pessoas eleitas democraticamente e que vão contribuir para mudar ainda mais essa realidade.
*Andréa Cangussu é Secretária Estadual de Mulheres do PTMG.